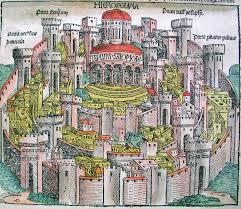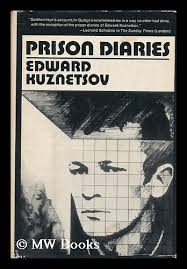Casal pediu ajuda para morrer, em carta a jornal.
Escrevi esta reportagem que foi a que mais repercutiu em meus 45 anos de repórter.
Tanta repercussão, que o casal decidiu viver, uma semana depois.
Hoje, marido e mulher estão mortos.
Morreram de causas naturais, num asilo no interior de São Paulo.
Casal setuagenário procura médico que o mate sem dor, com uma injeção. “Direito de morrer: é o que queremos, eu e minha mulher” – atesta Murillo B. Ferreira, 75 anos, numa carta ao jornal O Estado de S. Paulo. “Queremos morrer de braços dados, juntos como há 53 anos”, ele confirma ao receber num pequeno apartamento “uma segunda pessoa (o repórter) em quatro anos” – a primeira foi e continua sendo a faxineira diária.
No meio do sofá de uma sala estreita, no mesmo lugar onde passa as tardes sentada, óculos sobre o Caderno 2 todo dia destacado e dobrado para ser lido “depois”, como o próprio banho “há meses” adiado para “amanhã”, Arminda Ferreira, 73 anos, tem seu tique nervoso, um sinal da cruz, e põe a mão sobre a do marido com um doce sorriso: “Não digo sim nem não”, ela comenta sobre o “Assunto”, como se refere à eutanásia. Está com Alzheimer, a doença que levou a americana Janet Atkins a inaugurar a máquina de suicídio do Dr. Jack Kevorkian, conhecido por Dr. Morte nos Estados Unidos.
Uma pintura a óleo na parede da sala de estar vazia mostra Arminda quando jovem, em 1952. Era tão bonita que levou Murillo a postar-se diante do colégio Caetano de Campos só para vê-la caminhar até o ponto de ônibus na praça da República. Um dia de 1938 conversaram. “Era só papinho, mas foi, foi e foi”, ele agora lembra. Em cinco anos, ela então formada professora, casaram-se. Foram morar em Perdizes, bairro aonde voltaram agora por coincidência, depois de inúmeros endereços abertos dentro e fora de São Paulo por uma vida muito agitada. Noutra parede há um retrato mais atual, pintado pela própria Arminda: uma floresta de árvores desfolhadas, sobre um fundo amarelo. O outono do casal? Não, pelo menos não era essa a intenção.
Murillo é um homem muito organizado. Faz a lista dos congelados que vai encomendar para o mês, elabora um cardápio para a semana, dá baixa do que retira do freezer e pode acrescentar às vezes algum comentário sobre sabor e preço, tudo na sua portátil Remington 55. Já organizou a própria cremação. E se gaba de anotar tudo desde 1920. “Mas foi quando você nasceu!”, exclama Arminda. “Pois é: todos os acontecimentos estão registrados”, ele confirma. Até a lista do que mais o irrita, deixando-o “a ponto de explodir”, por causa de um “acúmulo tenebroso”, está datilografada, sobre a mesinha diante do sofá.
Por exemplo: há dois meses deu um cheque de R$ 240 que o banco debitou
R$740. “Isso me apavora: não entendo um erro assim”. Segundo item da lista de “pesadelos” é um remédio antigo de Arminda que passou de repente a ser vendido só com receita médica. “Fui a um pronto-socorro, expus o problema, e um médico então deu a receita… Mas cobrando R$124”. Outro dia Murillo voltou ao banco e ficou hora e meia na fila esperando a reativação da rede de computadores, em pane. “Demais!”, protesta: “O homem já foi à lua e as máquinas aqui na terra ainda não funcionam!” O IPTU recebido sem a via do contribuinte… “É possível isso?” Com uma trombose na perna esquerda ele teve que sair para fazer um xerox.
“Estou cercado de bombas de efeito retardado”, pressente Murillo. “Não sei onde nem quando vão estourar”. Arminda faz um sinal da cruz.
O “B” do sobrenome de Murillo não aparecerá por extenso para não identificar os dois filhos do casal. Um é médico, casado com uma médica, mas distante há cinco anos, embora vivendo em São Paulo. “Nem manda mais telegrama no Dia das Mães”. E não sabe que os pais procuram um médico que os mate, esgotados de viver. “Está de bem com a vida e bem de vida”. O outro não dá notícias desde 1982. “Talvez ainda esteja morando em Salvador”. Seguindo um longo rastro de calote em dívidas deixado pelo filho, e que o pai foi pagando com a venda de imóveis, carro e as coleções de 1500 long-plays e de 3 mil livros, os dois enfim se reencontraram numa “favela” em Itaparica, na Bahia. Combinaram uma reunião familiar. “Então, ele aprontou mais uma atrapalhada, e agora nem sei se continua vivo”.
Murillo é de Recife. Aos 14 anos, perdeu o pai Luiz Mateus Ferreira num sanatório de Davos, na Suíça. Era arquiteto formado na Alemanha e dirigia a Escola de Belas Artes de Pernambuco. A família visitava parentes na Europa quando a morte a desmembrou. A mãe alemã, quando voltaram ao Brasil, o colocou no internato do colégio Anglo-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em seis anos ela também morreria. “Com 20 anos não tinha mais ninguém”. Teve que se aprumar sozinho. “Queria subir na vida, progredir…” Talvez por isso, agora lamenta, “não tenha dado a devida atenção aos filhos”. Não que deixasse lhes faltar algo: “Tinham tudo e estudaram nos melhores colégios de São Paulo”. Mas restava pouca presença paterna.
O sonho de Murillo era se tornar médico. Mas ele nem tentou realizá-lo porque teve que trabalhar logo que acabou o ginásio. “Eu me fiz”, orgulha-se. Foi publicitário nas agências Lintas e J. Walther Thompson. Deixou a propaganda quando “Chatô” (Assis Chateaubriand, dono da rede Associados de jornal e TV) o convidou para dirigir a área comercial das rádios Difusora e Farroupilha de Porto Alegre. Depois, por 12 anos, foi diretor comercial da TV Paulista e das rádios Excelsior e Nacional de São Paulo. “Hebe Camargo, Sílvio Santos, Golias…tinha contato com todos”. Mudou de ramo em 1969: tornou-se administrador da caderneta de poupança Delfin, empresa de crédito imobiliário. Aposentado em 1976, ele continuou trabalhando. Passou então pelo Diário do Nordeste, em Fortaleza. “O melhor ano de minha vida, esse de 1982”. Mas Arminda não se deu bem. “Desde 1970 ela já dava sinais de depressão”. Viviam bem. Tinham casa no Sumaré, eram sócios do Pinheiros, viajavam, muitos amigos os cercavam.
“Dramático é chegar na situação em que estamos hoje”, lamenta Murillo. “Para”, pede Arminda. Mas ele continua: “Hoje não encontro uma pessoa conhecida em São Paulo”. E Arminda repete: “Chega”. Mas o marido insiste: “Impressionante! Como se fôssemos de Marte, uns E.Ts.. Restam-nos as lembranças”. Mas mesmo as lembranças são traiçoeiras. Como a viagem de ônibus entre Miami e Califórnia que fizeram em 1955, agora trazida à tona. Ela: “Ah, os sorvetes!” Ele: “Comemoramos o aniversário dela no Grand Canyon”. Ela: “Nova Orleans era tão bonita!” Ele: “Felizmente aprontamos”. E os dois desembocam rapidamente na tristeza do aqui agora.
Arminda vestia Clodovil. Encomendou-lhe especialmente o longo em que foi fotografada no casamento do filho. “Há cinco anos usa só duas calças e duas blusas”, conta Murillo. Ela fica mexendo nos botões, calada. No guarda-roupa teria múltiplas escolhas, mas sequer o visita, nem por curiosidade. “Se não a forço a trocar-se, ficaria sempre com a mesma roupa”. Sempre muito organizado, ele bolou uma lista com sugestões para a mulher distribuir o tempo, dividindo-o em blocos de dez dias. “Mas ela só fica sentada, dizendo: amanhã, amanhã… Isso me deixa mais doente”. O casal vive da aposentadoria e de “algumas aplicações”. E se rotula “classe média remediada”.
Murillo conhece dois sintomas típicos da doença de Alzheimer, que provoca uma progressiva degeneração do cérebro: “Tendência ao suicídio ela não tem”, exclui um. Outro, sim: “Banho ela não toma”. Arminda reclama: “Tomo sim!” E ele rebate: “Já não sei mais quanto tempo faz que não ligo o gás do chuveiro para ela”. Seriam “meses”, garante. “Fico possesso”. Então, chega ao principal item da lista do que mais o irrita: “Alzheimer é irreversível e vai só se agravando”.
A preocupação maior de Murillo é morrer antes de Arminda. Se só ficar doente já será um grande problema: “Ela não sabe nem mais preencher um cheque”. Ensinou-a o símbolo do Real, juntos rascunharam vários cheques, e passado um dia, esqueceu tudo. Uma vez, ele de cama, os dois morando em Guarujá, ela desceu para comprar pão. Não soube voltar. A um quarteirão de casa, e perdida. “Me desespero: era uma professora, hoje está nesse estado”.
Arminda desvia os olhos, não encara o marido. Fica catando alguma coisa na blusa. Ela tem duas irmãs. Murillo procurou uma delas, que “mora num apartamento grande”, filhos casados, e lhe perguntou se poderia recebê-la, mesmo provisoriamente, até que arrumasse vaga numa casa de repouso, caso ele morresse de repente. “Comprometia-me a deixar todas as despesas pagas”. Há quatro anos espera uma resposta. “Aí desisti de procurar a outra irmã”. Então concluiu: “Não temos ninguém”. Pior: “Se me acontecer algo, minha mulher entra em parafuso”.
O pequeno escritório com a Remington e duas gravuras de Aldemir Martins na parede, “presentes do amigo Caio Alcântara Machado”, é o “inferninho” de Murillo. Gostaria de levá-lo para onde fosse. E aí começam os problemas com asilos e casas de repouso há três anos pesquisados. “Não há espaço para um pouco de independência nem gostam de receber casais”. A preferência por avulsos tem uma lógica comercial: “O casal ocupará um quarto por R$1.200 que renderia mais se dividido entre duas ou três pessoas a R$750 cada”. Ele tentou asilar-se pondo anúncio em quatro jornais. Uma oferta que recebeu prometia uma área verde para longos passeios. Na verdade, era uma praça diante da casa, “um depósito de velhos”. Tentou o interior: “Os telefones não atendem”. Encontrou uma exceção no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, “uma cidade com 85 anos”. Mas lá não há vagas.
Quando Arminda teve que operar o útero, em 1992, o “inferninho” e outras exigências acabaram esquecidos. O casal entrou para “um asilo 5 estrelas” da Sociedade Beneficente Alemã, no Butantã, que incluía assistência médica pós-operatória. Logo ganharam o apelido de “Casal 20”, porque mais novos que todos. “Éramos brotinhos em comparação aos outros; por isso, fomos discriminados”, Murillo lembra, hoje arrependido de ter saído após um ano. Sofria com a perda de independência. Queriam ampará-lo, e ele reagia. “Isso desagrada num asilo, e eu não estava preparado”. Aos poucos, porém, foi se convencendo de que até poderia se ajustar, numa nova temporada. A hipertensão, a trombose na perna esquerda e a hérnia inguinal neutralizaram sua compulsão pela liberdade de fazer o que bem quer.
De 147 casas de repouso em São Paulo só se salva 1%, garante Murillo: “Entrei em lugares que são verdadeiras baias para cavalos, casos de polícia”. Na carta que enviou ao Estadão ele menciona uma reportagem publicada em fevereiro sobre os filões de produtos e serviços que fazem parte do mercado da Terceira Idade. E pergunta: “Neste filão não há asilos?” Ele mesmo tem a resposta: “Não encontrei”. É então que acrescenta: “Daí optamos, eu e minha mulher, para a eutanásia, o direito de morrer. Pensamos muito. Pensamos durante um longo tempo. Não temos dúvida sobre a nossa decisão”.
Arminda faz um sinal da cruz: “Nem gosto de ouvir falar”. Murillo procura justificá-la: “Conversamos, mas ela não se fixa muito, esquecendo tudo dois minutos depois”. Ainda bem que “vive com ideias fixas”. Todo dia, quando acorda, ela faz tudo sempre igual. Pega um paninho e o passa nos parcos móveis da sala. Depois senta no lugar de sempre no sofá até o entardecer. Vê um pouco de TV antes de dormir. Adormece em 20 minutos. Se o marido sai, fica aflita. Se demora, vai capengando com muita dificuldade para o hall do 15º andar. Quer sempre a porta aberta para poder ficar ali, diante dos elevadores. Ela própria não sabe por quê. Faz três meses que ela esteve “lá fora”, na rua Cayowaá: foi ao cabeleireiro.
“Estou desesperado, não aguento mais”, desabafa Murillo. Com carinho, ele chama a atenção de Arminda, o olhar perdido. “Vamos embora os dois juntos, e da melhor maneira possível… Sem dor… Uma injeção”. Como se despertasse, ela diz: “Essa prosa me deixa nervosa”. Ele então ameaça: “Se necessário for, tomo uma medida drástica, coisa que não quero”.
Suicídio? Murillo garante que “método violento está fora”. Até porque “não teria coragem de matar Arminda”. Na carta ao Estadão ele justifica a opção pela eutanásia: “Somos um casal de setuagenários que já perdeu qualquer visão idílica de uma vida futura saudável, tranquila e segura. Não conseguimos afugentar os fantasmas da velhice. Não conseguimos assimilar as mudanças que ocorreram em nossas vidas. Queremos ter o direito de morrer. Os nossos corações já estão rateando. Os pulmões, tocando os seus foles. A cabeça, já meio louca, coitada, fazendo o que pode. O corpo trasteja, se fere, fratura, desgasta. As pernas, já não mais tão serviçais, estão cansadas, com mais de 70 anos cada uma. Tudo isso como doi! Doi por dentro, doi por fora. Aliás, a dor é o melhor sinal da vida. Só não doi depois da morte. Por tudo isso é que resolvemos deixar de sentir dor…”
Se um médico aceitar o papel do Dr. Morte, Murillo quer um mês para organizar o fim. A cremação já está arranjada. Os bens, também já decidiu, serão doados ao Hospital do Câncer. A dúvida ainda é Arminda. Se não quiser ir junto, ele terá que encontrar alguém que zele por ela até morrer. “Então morrerei tranquilo”. No sofá, a mulher lhe estende a mão. E sorri solidária. Depois afasta a fumaça do cigarro esquecido pelo marido no cinzeiro. E faz um sinal da cruz.
A despedida já foi escrita. É o final da carta ao Estadão: “Geramos filhos para que perpetuassem, bem ou mal – no nosso caso foi mais para o mal do que para o bem – a nossa passagem, com um nome, memórias, amor ou indiferenças e saudades ou esquecimentos. Tudo absolutamente ilusório. Já fomos fanáticos por ciclos de vitórias e derrotas, de alegrias e prantos, de lutas que começam num grito de choro e terminam num suspiro. O temido último suspiro. Não o tememos mais… A gente vive um sonho de carne e osso, que acaba no acordar que é a morte. Queremos acordar…”

Leia também Queremos Viver.
(Houve uma terceira reportagem, com Murillo e Arminda se instalando no asilo que queriam morar, em Piracicaba.)